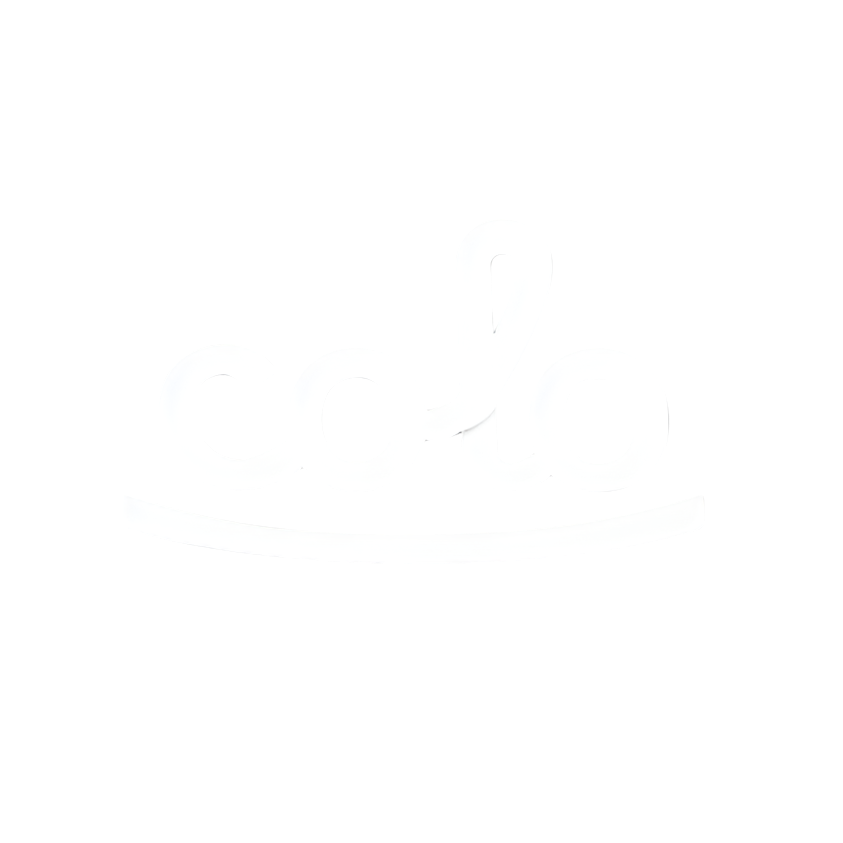Participação, percepção háptica, sonora e corporificada
Entre os profissionais que utilizam o cinema como matéria de trabalho, no esforço de reterritorializar filmes e imagens animadas, ocupando espaços museais e alternativos, as noções de participação e interação do espectador vem muitas vezes acompanhada de uma ideia de ativação da obra. Se por um lado temos um segmento da teoria clássica que pressupõe passividade relativa do espectador, que deve experienciar o cinema num estado de submotricidade e hiper percepção, almejando atingir uma transparência ideal da imagem subserviente à ideia da narrativa como codificação de dados do mundo real; por outro temos um tipo de percepção expandida do cinema que aposta na opacidade e na quebra do paradigma do espectador que apenas assiste, jogando tacitamente com dispositivos interativos e criando novos tipos de subjetivação e temporalidades.
Essa cisão tão claramente demarcada está ligada também a uma herança histórica da teoria que impõe a preponderância da visão como sentido hierarquicamente superior na apreensão do cinema, reduzindo-o a uma prática quase que exclusivamente ocular. Longe de negar a centralidade da visão enquanto sentido chave no cinema, é essencial, contudo, compreender o corpo como superfície de contato que integra os demais sentidos, reconhecendo também as dimensões acústica e háptica do dispositivo cinematográfico. Na esteira do que Michaud (2014) conceituou como “cinema experimental”, poderíamos aludir à prática do cinema expandido para ter em mente as ideias de uma recepção artística corporificada. A prática desse cinema experimental, por conseguinte, se articula num esforço de desmembrar/desvelar o dispositivo cinematográfico em seus elementos constitutivos básicos (a tela, a película, a projeção, a plateia, a sala, o som, etc.), separá-los e remontá-los criticamente sem que o resultado final tenha que implicar necessariamente num filme narrativo de ficção (ou mesmo num filme na acepção clássica do termo). Esses trabalhos, que na maior parte das vezes fogem do espaço de visionamento da sala tradicional, podem ser acessados por vias complementares à visão.
Line describing a cone (montado originalmente em 1971) é uma instalação de Anthony McCall que trabalha abertamente com a dimensão háptica do cinema. Numa galeria fechada e escura, é projetada uma imagem indistinta na qual um círculo vai se fechando lentamente. Colidindo com a fumaça artificial que envolve o ambiente, o feixe de luz da projeção ganha contornos claramente delimitados e uma vez que o círculo se fecha por completo, é possível visualizar um cone de luz desenhado entre o espaço da lente do projetor e a parede. Na instalação, a luz e a projeção, dois dos elementos constitutivos mais básicos do cinema, não são mais os meios transparentes que codificam a imagem figurativa e a tornam visível: eles são a figuração da própria imagem e ganham em tangibilidade ao passo que podem ser acessados tatilmente pelos espectadores, que são incentivados a deambular pelo espaço expositivo.
Nessa tradição experimental, ainda segundo Michaud, “desenha-se uma outra experiência de cinema, na qual se reconstitui uma continuidade real (e não mais fictícia) entre a imagem e aquele que a contempla – sobrevivência arqueológica de um espetáculo concebido em termos de presença e não mais de representação”. (MICHAUD, 2014, p.33). Em Line describing a cone, as próprias noções de presença e de desvio para o háptico e o interativo estão em linha com a ideia da fenomenologia de que a percepção no cinema dá-se num primeiro momento como a somatização da imagem no corpo, para que apenas em seguida possa ser apreendida intelectualmente.
O artista brasileiro André Parente parece ter traduzido bem esse desvio calculado do ocular para o háptico na sua instalação Circulandô (2011). Interessado nos movimentos do corpo enquanto motivo filosófico, ele cria um dispositivo de reprodução da imagem animada que reinventa o zooscópio e posiciona o seu trabalho artístico como uma prática intermediária entre o pré-cinema e o cinema pós-fotográfico. Em múltiplas telas dispostas em semi-círculo, projetam-se imagens de arquivo de três filmes (A vida e a música de Thelonious Monk; Édipo Rei e Deus e o Diabo na terra do sol) nos quais os protagonistas expressam suas paixões por meio de movimentos corporais circulares marcados e repetitivos. Como num zooscópio, o espectador pode dar ritmo e cadência a esses loops animados operando um disco acoplado no centro da instalação. A imagem ganha ou perde aceleração conforme a agência do espectador, permanecendo estática, portanto, quando não há ninguém operando o disco. A necessidade de um espectador corporificado para quem é produzida e endereçada a imagem faz-se essencial aqui, pois trata-se de um trabalho que se articula muito mais na dimensão da presença do que da representação figurativa.
A fascinação com os dispositivos ópticos pré-cinematográficos (como é o caso do zooscópio em Circulandô) e com os parâmetros gerais de diegese expandida do primeiro cinema na prática do cinema expandido e das instalações artísticas contemporâneas servem para repensar criticamente o tipo de agenciamento individual e coletivo que se obtém quando endereçamos a imagem animada a um espectador assumidamente corporificado, ultrapassando a barreira do exclusivismo ocular e acessando as potencialidades hápticas.
Os temas do olho háptico vs. olho descorporificado, da fixidez (passividade) vs. mobilidade (atividade), do paradigma da caixa preta vs. cubo branco, enfim, são recorrentes tanto na teoria quanto na prática artística contemporânea. Artistas e curadores tendem a correr lado a lado com teóricos na formulação de modelos híbridos que deem conta dessas inquietações. Em 1981, o artista conceitual norte-americano Dan Graham elaborou o projeto arquitetônico de uma sala de cinema que funcionaria como revisão crítica da caixa preta tradicional. O projeto, intitulado Cinema, não chegou a ser construído, mas as suas bases conceituais e técnicas foram montadas em maquete e desenhadas em planta baixa. Cinema funciona como uma sala na qual as paredes de concreto são substituídas por blocos de vidro, de forma que é possível aos transeuntes assistirem aos espectadores sentados no auditório e ao próprio filme sendo projetado do lado de fora, na rua. Esses blocos de vidro, que preenchem a totalidade das paredes construídas em lados perpendiculares, funcionariam, do lado de dentro da sala, como espelhos, dessa forma as pessoas assistiriam não só à projeção dos filmes mas estariam expostas também à reflexão dos próprios corpos.
Há duas camadas de percepção importantes inauguradas em Cinema que subvertem os códigos estabelecidos pelo modelo da caixa preta em sua configuração clássica. A primeira consiste na abertura da sala para a rua: agora os transeuntes podem assistir ao espetáculo do cinema em sua totalidade (projeção, auditório e público), como observadores externos. Torna-se possível, assim, assistir alguém assistindo a um filme e perceber como o corpo se comporta quando submetido a códigos disciplinares, já que deve-se permanecer fixamente sentado do início ao fim da sessão. Num sentido inverso, ao colocar os espelhos no interior da sala, Graham quebra em grande medida o efeito de imersão automática que se supõe do cinema figurativo, chamando atenção para a presença do corpo háptico cuja tendência (anti)natural seria se desprender do olhar quando convidado a atravessar a janela transparente. Aqui, o jogo de identificação não se mede pela sutura do aparelho psíquico do espectador com o filme (para fazer referência ao dispositivo de Baudry), mas é mediado pelo próprio corpo, que atualiza-se a todo momento e se coloca como interface de contato no processo de diegese expandida da experiência cinematográfica.
Metaforicamente, observar os espectadores implicados na performance da projeção de cinema a partir de um local externo (leia-se: da rua) poderia configurar também uma espécie de espelho inverso, pois dificilmente o sujeito não irá identificar no próprio corpo uma extensão das convenções coletivas fabricadas pela caixa preta. Dessa forma, Cinema propõe uma dupla camada de espectatorialidade crítica: uma do lado de dentro da performance, onde a reflexão do corpo háptico é ativada para lembrar o espectador de que ele é indissociável à visão; e outra do lado de fora, onde se apreende à distância o espetáculo em sua constituição performática e institucional.
O redirecionamento do ocular para o háptico aponta pro caminho caudaloso que os estudos do cinema tem seguido ao compreender a importância de uma apreensão multissensorial quando se fala da experiência cinematográfica. Nesse sentido, a questão do som no cinema ocupa um lugar de reflexão privilegiado desde o advento do filme sonoro no final dos anos 20, passando pela inauguração do sistema Dolby sourround nos anos 70 e a aderência universal dos aparelhos de reprodução sonora (Walkman, iPod, telefone celular, etc.). Pensar o som no cinema, contudo, exige destacá-lo e entendê-lo como dimensão que tem vida própria em relação à imagem, ultrapassando a noção há muito superada de que no filme a sonoridade só pode existir quando associada ao plano imagético.
No cinema clássico, o som é geralmente analisado estritamente em relação à imagem (e dependente dela). Observa-se se o som está na tela ou fora da tela (isto é, se a fonte do som pode ser vista no plano ou não), se o som é diegético ou não diegético (isto é, se a fonte do som está no interior do mundo narrativo do filme ou não), se o som é sincrônico ou não sincrônico (isto é, se um som acontece ao mesmo tempo em que sua representação na tela) e também em relação a esses parâmetros. (ELSAESSER, 2018, p.162).
A disputa de poder entre a imagem e o som, no sentido de estabelecer qual dos dois prevalece hierarquicamente e qual existe apenas na condição de ilustrar ou acompanhar o outro (quase sempre com a imagem se sobrepondo), remonta os primeiros filmes sonoros do final dos anos 20, quando a ligação entre voz e corpo colocava-se como possibilidade de ampliação do repertório ilusionista do cinema narrativo; contudo, assim como o som é processado e armazenado por meio de técnicas muito diferentes da imagem, a sua experiência de recepção também se dá num outro nível. Diferente da recepção imagética, que acontece num plano ocular unidirecional e bidimensional, o som chega ao ouvido (e por extensão ao corpo háptico) como experiência espacializada e tridimensional.
O som dá corpo ao filme e situa o espectador no espaço por tratar-se de um fenômeno multidirecional. Por exemplo: é possível escutar um som emitido fora do campo de visão do ouvinte e ainda assim apreende-lo em sua totalidade, localizando-o no espaço. Enquanto a imagem de cinema pode ser capturada e imobilizada congelando o fotograma (ou frame), o som é escorregadio e invariavelmente móvel, pois só pode ser reproduzido no tempo, não sendo fixado. Nesse sentido, o som ganha também uma dimensão háptica quando entra em contato com o corpo, uma vez que trata-se de um fenômeno de ondas que atravessam o espaço-tempo. Sobre essa camada tátil do som, Elsaesser acentua que “para produzir ou emitir um som, um objeto deve ser tocado (as cordas de um instrumento, as cordas vocais, o vento nas árvores), e o som, por sua vez, faz os corpos vibrarem. O som cobre e descobre, toca e abraça até o corpo do espectador” (ELSAESSER, 2018, p.163).
Um dado pouco discutido pelas análises históricas dominantes dá-se no fato de que o som já se fazia presente como elemento para-textual do cinema muito antes dos anos 30, remontando a prática expandida e instável do cinema de atrações, quando os filmes eram apresentados em auditórios com acompanhamentos musicais das formas mais variadas: com sonoplastia multidisciplinar, orquestras sinfônicas, narrações, enfim. A dimensão sonora dessa prática primeira já se apresentava como elemento dissociado da imagem, dando significado ao filme de fora pra dentro, a partir da experiência sensível da performance no espaço do auditório. Da mesma forma, a fugacidade que é própria da experiência sonora dava a cada sessão o caráter de evento único e exclusivo, entendendo que as performances musicais ao vivo estavam em constante processo de reatualização e eram sempre diferentes entre si.
O surgimento e implementação do padrão Dolby sourround nos anos 70 radicalizaria ainda mais os parâmetros da experiência sonora estabelecida no contato do espectador com a matéria fílmica e com a fisicalidade da sala de cinema. Diferente do padrão clássico, onde haviam colunas frontalmente posicionadas (escondidas atrás da tela), agora o som passa a ser gravado em canais múltiplos e distribuído em várias colunas espalhadas por toda a extensão do auditório (frente, lateral e fundo). Essa redistribuição do som no espaço é revolucionária na medida em que permitiu a criação de paisagens sonoras complexas que se associam/dissociam, estabilizam/desestabilizam a imagem e supera a experiência de recepção do som cinematográfico na sua configuração clássica, que emanava apenas do espaço da tela e que, portanto, corria sempre na mesma direção da imagem.
Os efeitos estéticos de avanços tecnológicos como Dolby e (subsequentemente) a digitalização (que faz do som multicanal o padrão) se traduzem principalmente no surgimento de um novo tipo de espaço auditivo. O som cinematográfico é, daí em diante, multicamada, multidirecional e consiste, entre outras coisas, de ruídos e sons que não são nem naturais na origem nem produzidos por instrumentos musicais (ruídos eletrônicos, amostras sonoras, som digital. (ELSAESSER, 2018, p.168).
A configuração do Dolby sourround, principalmente nas suas versões digitais contemporâneas, gera um tipo de efeito que poderíamos associar arqueologicamente aos aparelhos de reprodução musical portáteis surgidos no início dos anos 80. Elsaesser (2018, p.172) caracteriza o walkman como um dispositivo que tensiona os limites entre exterior e interior, mobilidade e imobilidade, público e privado, enfim, posicionando-o como uma ferramenta que desterritorializa as experiências sonoras obtidas anteriormente apenas em locais delimitados. Assim, o walkman produz um efeito de centralidade do sujeito em relação à sua posição no espaço, já que independente de onde esteja, no interior do seu aparelho auditivo ele converte-se no centro acústico do mundo. O Dolby sourround dá ao espectador de cinema contemporâneo uma situação parecida, uma vez que não importa o local onde ele esteja sentado no auditório nem o seu posicionamento em relação à tela, já que os sons multidirecionais atravessarão o espaço dando a impressão de que ele está posicionado no centro. Esse novo efeito de percepção, por conseguinte, altera também a vinculação do olho com a superfície da imagem, já que agora ela não precisa mais estar no meio do campo visual para ser apreendida em parâmetros de centralidade, entendendo que o som passa a cumprir um papel importante de rearranjo espacial.
The paradise institute incorre dessa relação multicamada entre imagem e som, construindo uma paisagem sonora que localiza o espectador no espaço ao passo que o desestabiliza; estabelecendo assincronias e descompassos com a imagem. À exemplo do walkman, a instalação fornece headphones aos espectadores, rompendo (a nível sonoro) com o paradigma básico de recepção coletiva (pública) do cinema em prol de um modelo de recepção individual (privada) ao combinar dois dispositivos de ontologias aparentemente opostas. A partir dos sons emitidos pelos fones, os sujeitos poderão localizar-se no espaço físico da instalação, mas também irão se identificar como participantes cuja agência torna-se central no jogo de diegese expandida. Aqui, o ouvido como superfície de contato do corpo háptico torna-se um local importante para compreender as potencialidades do som na sua relação com a imagem cinematográfica: o que se escuta ultrapassa (e atravessa) o que se vê; o som dá e retira sentido à imagem, criando, assim, uma relação ambivalente de aproximação e afastamento entre os campos do visual e do auditivo. A agência do espectador autorreferido nesse jogo de diegese expandida é importante em The Paradise Institute na medida em que o põe em estado de alerta em relação à extensão dos sentidos do corpo háptico.
Naturalmente, os estudos de caso evocados em Line describing a cone, Circulandô, Cinema e The paradise institute trazem consigo o impulso de superação de uma tradição histórica que estabeleceu a percepção ocular como a última fronteira de contato do espectador com o cinema. De novo, seria improdutivo e contra factual negar a centralidade da visão, ou mesmo sugerir uma guinada orientada exclusivamente para o háptico ou o acústico. Dessa forma, faz-se necessário salientar o papel do corpo como superfície total de contato que integra os sentidos (ainda que eles entrem em conflito tácito) e coloca o espectador como agente atuante e participativo na apreensão do cinema, mesmo quando imerso em regimes tradicionais como o da caixa preta, entendendo que não há visão descorporificada uma vez que não existe olho separado do corpo. Outrossim, advogar pela emergência de novos espaços de espectatorialidade (seja no museu, no cinema tradicional ou em locais alternativos) e pela produção de obras que atuem no sentido de expandir ainda mais essa percepção alargada nos ajuda, inclusive, a entender melhor os lugares tradicionais do cinema e a superar os binarismos que insistem em se infiltrar quando falamos sobre participação na arte.
excerto de Locais do cinema: espectatorialidade e curadoria de Pedro Azevedo no âmbito do mestrado em estudos de arte pela Faculdade de Belas Artes de Universidade do Porto sob orientação do Prof. Dr. Tiago Assis.