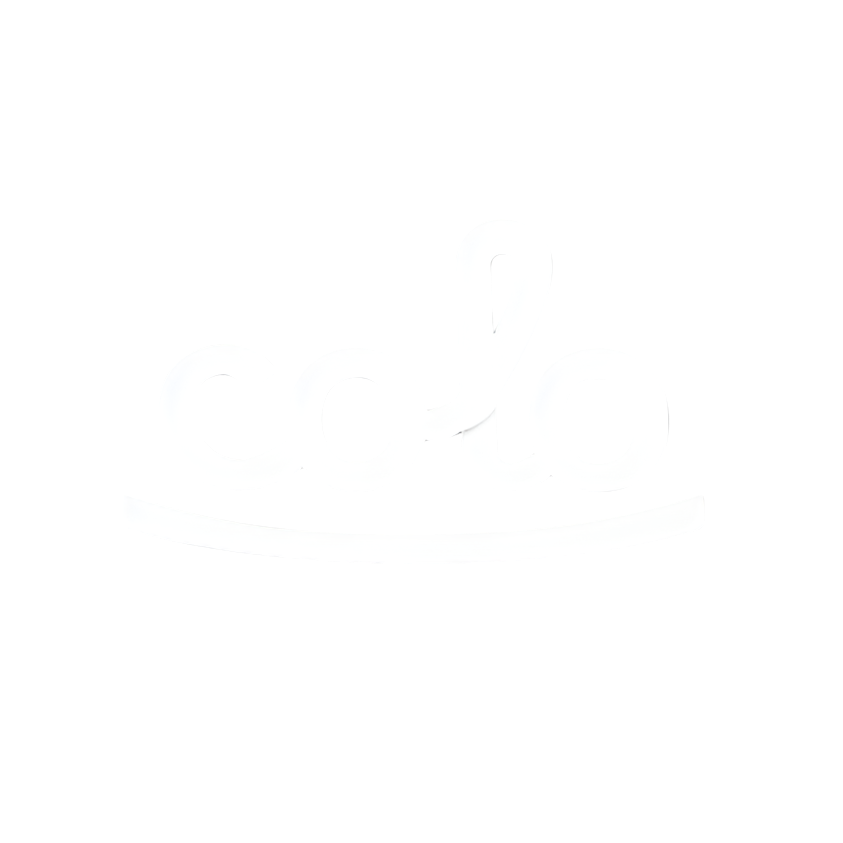O olhar e o agir no processo de emancipação espectatorial
Quais relações implícitas e explicitas podemos estabelecer entre a ideia de emancipação intelectual e a condição do espectador contemporâneo? Seria necessário, antes de tudo, entender a posição de privilégio que o espectador ocupa no âmago da discussão entre arte, educação e política. Em “O espectador emancipado”, o filósofo francês Jacques Rancière propõe um rico debate que coloca em xeque a noção de passividade espectatorial de quem “assiste” ou “consome” obras de arte, numa reflexão que parte da experiência coletiva do teatro e da performance, mas que pode (e deve) ser estendida ao cinema e às hibridizações das linguagens e experiências da arte contemporânea.
A premissa da ideia de emancipação intelectual, tal como proclamada por Joseph Jacotot no início do século XIX e referenciada no livro “O mestre ignorante” de Rancière, nos chega com certo estranhamento. A cena descrita, onde um ignorante ensina a outro ignorante aquilo que ele próprio não sabe, abre, com efeito, a possibilidade de “horizontalizar” as relações intelectuais e igualar as inteligências dos indivíduos. Algo tido como antinatural na lógica pedagógica clássica, que prevê um distanciamento progressivo e sistemático entre as posições do mestre e do aluno, entendendo que saber é também – e antes de tudo – um dispositivo de poder. Nesse sentido, por mais que a missão do mestre seja a de encurtar o abismo de conhecimento que o separa do resto do mundo, sua posição de suposto-saber só poderá ser sustentada ao passo que ele instala, ad eternum, uma nova ignorância no aluno.
A verticalidade constitutiva nas relações entre professores e estudantes seria sustentada, nessa acepção, pelo desconhecimento do aluno em relação à própria ignorância. A emancipação intelectual só poderá existir, portanto, quando houver conhecimento acerca da distância que separa o saber da ignorância. Não se trata aqui de igualar todas as manifestações de inteligência, mas de nivelar as inteligências em todas as suas manifestações possíveis.
O paralelo não é tão óbvio e tampouco se encontra na superfície. Ainda assim, quando pensamos no modelo pedagógico clássico, que segrega e costura fronteiras entre sábios e ignorantes, podemos caminhar em direção ao teatro e à performance (enquanto experiências estéticas populares, compartilhadas em grupos ou comunidades imaginadas) para chegar no que Rancière denomina de “paradoxo do espectador”. Por certo, não é possível que haja espetáculo sem espectador, e entre as tantas críticas sofridas pelo teatro ao longo de sua história secular, a própria condição de “espectar”, ou seja, de observar, pressupõe a existência de uma dominação implícita entre quem produz e quem consome a ação dramática. Platão, cujo pensamento e filosofia alertavam para o caráter mimético e potencialmente perigoso da arte, já dizia: “o teatro é o lugar onde gente ignorante é convidada a ver homens que sofrem”. O simples gesto de olhar a peça teatral, dessa forma, serviria tanto para perpetuar a posição passiva do espectador quanto para mantê-lo afastado de um lugar de conhecimento.
Seria possível então o surgimento de um outro teatro? Um teatro sem espectadores passivos e embrutecidos? Rancière aponta duas fórmulas propostas por Bertold Becht e Antoine Artaud ainda no século XX, e que embora fossem antagônicas em métodos e aplicações, visavam “reformar” o teatro clássico e retirar o espectador da condição passiva de voyeur, estabelecendo-o como participante ativo e condutor da performance.
Para Brecht e seu teatro épico, libertar o espectador da condição passiva consistia em empreender espetáculos estranhos e pouco usuais, quebrando com identificações e empatias que pudessem florescer na relação da plateia com os atores. A peça serviria, assim, como um problema a ser resolvido, um enigma que coloca o espectador na condição ativa de investigador. Não seria estranho traçar aqui um paralelo entre o teatro de Brecht e o cinema surrealista de Buñuel ou de Lynch. Ambos propõe afastar o espectador da ideia de verossimilhança do mundo material, utilizando-se muitas vezes de ferramentas de metalinguagem que denunciam a própria artificialidade do espetáculo/filme (quebra da quarta parede). Para Artaud, ao contrário, alertar o espectador sobre a condição artificial da peça, no intuito de acionar um processo de autoconsciência, não era suficiente. Ao invés de produzir esse distanciamento indagador brechtiano, o teatro da crueldade de Antonin Artaud convidava o espectador a ocupar o centro da ação, desapossando-o da condição de receptáculo inócuo.
O fato do teatro e da performance ocuparem um espaço tão central nas discussões sobre a condição do espectador ainda nos dias de hoje tem relação estreita com a tradição histórica do teatro enquanto espaço comunitário, de auto presença e confrontação (de si mesmo e dos outros). Nesse sentido, diria Brecht, “o teatro é uma assembleia na qual os agentes do povo tomam consciência da sua situação e discutem os seus interesses”. Rancière, em coro, infere que “o teatro, mais do que qualquer outra arte, foi associado à ideia romântica de uma revolução estética capaz de transformar já não a mecânica do estado e das leis, mas as formas sensíveis da experiência humana”.
Como estabelecer, então, parâmetros que deem a entender a condição do espectador frente a outras experiências estéticas, coletivas ou individuais, no campo das artes contemporâneas? O cinema, por exemplo, durante boa parte do século XX ocupou o lugar de atenção e prestígio que antes era relegado majoritariamente ao teatro. Não por acaso a sala de cinema é, em sua condição ideal, construída a partir de um único ponto de vista convergente, ocupada por fileiras de poltronas nas quais os espectadores possam apreender a totalidade da tela, janela aberta para uma profundidade fictícia tal como o palco teatral.
Se no teatro encaixaram-se muito bem as críticas de espetacularização e exterioridade à exemplo do que escreveu Guy Debord em “A sociedade do espetáculo (onde denuncia a ideia de contemplação passiva que separa o homem da verdade), no cinema, a própria noção de espetáculo ganha novos contornos ao passo que a sessão fílmica se estabelece como experiência de consumo “unilateral” das imagens. A arte cinematográfica, com efeito, seja em seu modelo industrial hollywoodiano ou enquanto veículo de propaganda, vide os cinemas soviético ou nazifascista, tem um largo histórico de utilizar-se de seu caráter espetacular e sedutor para servir de instrumento de manipulação do espectador.
Nesse sentido, muitos denunciariam que a própria natureza da experiência de recepção fílmica no interior da sala de cinema é embrutecedora. Os efeitos psicológicos da submotricidade (sentado e com movimentos limitados, o espectador permanece imóvel durante toda a sessão) somados à hiper percepção (quando o espectador é bombardeado por estímulos visuais e sonoros que o atingem de todos os lados) estariam, dessa forma, conspirando para a manutenção de uma certa passividade espectatorial.
A própria história do cinema experimental aponta para um processo decomposição do dispositivo cinematográfico em seus elementos constitutivos básicos (tela, câmera, projetor, plateia, som, enfim), antecipando um movimento de recomposição onde pudesse emergir um novo modelo questionador e autoconsciente das próprias fragilidades e potencialidades do filme, servindo como alternativa ao cinema ficcional narrativo. Não por acaso o cinema experimental abriu caminho para a hibridização da arte cinematográfica com outros tipos de registro audiovisuais e linguagens artísticas, deslocando os filmes das salas de cinema e instalando-os em museus, galerias e espaços alternativos. Seguindo essa lógica, uma das ideias mais difundidas nos campos do “pós-cinema” e do “cinema expandido” consiste exatamente na noção de que esse novo espectador, quando desterritorializado da sala de projeção, converte-se numa espécie de montador das imagens que apreende no espaço e no tempo, impondo qual percurso e ritmo deve seguir a partir do seu gesto espectatorial, saltando qualitativamente da condição de observador passivo para a de participante ativo.
Outrossim, aqui podemos evocar Rancière e começar a questionar o impulso que nos leva a separar em polos tão diametralmente opostos o olhar da ação. Estaria mesmo o espectador eternamente condenado a romper com a própria condição de passividade, seja através das ferramentas da emancipação intelectual, do teatro reformista ou do cinema expandido, ou será que uma estratégia mais interessante seria a de suprimir a distância que separa as ideias de atividade e passividade no gesto de observar e consumir obras de arte? A quem serve, efetivamente, esse processo de dominação e sujeição do espectador, que enrijece fronteiras e apaga sutilezas da sua sensibilidade? A emancipação espectatorial se inicia, de fato, quando entendemos que o olhar é também um tipo de ação e vice-versa. Observar configura igualmente em selecionar, interpretar, articular e rearticular o repertório pessoal em função da obra, atribuir sentido, enfim, compor um poema próprio a partir dos do poema que nos é apresentado.
Se num passado relativamente recente ainda cabia a ideia do artista “pedagogo”, que instruía e conduzia o espectador rumo à verdade, nos dias de hoje há uma espécie de recusa por parte dos artistas em utilizarem-se da cena, da performance, do filme ou qualquer outro tipo de manifestação artística para transmitir conceitos e mensagens unilateralmente. Nas palavras de Rancière, tomando novamente a ideia do teatro e da performance como ponto de baliza para a discussão, “a performance não é a transmissão do saber ou do respirar do artista ao espectador. É antes essa terceira coisa que nenhum deles é proprietário, da qual nenhum deles possui o sentido, essa terceira coisa que se mantém entre os dois, retirando ao idêntico toda e qualquer possibilidade de transmissão, afastando qualquer identidade entre causa e efeito”.
Dessa forma, a condição de “espectador emancipado” é a condição normal de todos nós, partindo da noção de que ser espectador não pressupõe assumir uma posição passiva, mas configura essencialmente na nossa situação normal e cotidiana, seja ela frente à educação, à política ou à arte. Ensinamos na mesma medida que aprendemos e agimos à mesma medida que observamos. É exatamente nesse poder de dissociar fronteiras pré-estabelecidas que reside a virada da emancipação espectatorial.
Quando falamos da dissolução de fronteiras que cristalizam posições e saberes no campo da recepção artística, precisamos também aludir ao fenômeno de convergência e hibridização de linguagens e experiências da arte na contemporaneidade. A hipótese da arte total, cujas arestas encontram-se interseccionadas, reforça a noção de que nos dias de hoje um filme pode ser também uma instalação ligada às artes plásticas e uma peça de teatro pode dar-se por intermédio da projeção de imagens animadas. A emancipação do espectador é a emancipação da arte e vice-versa.
texto: pedro azevedo